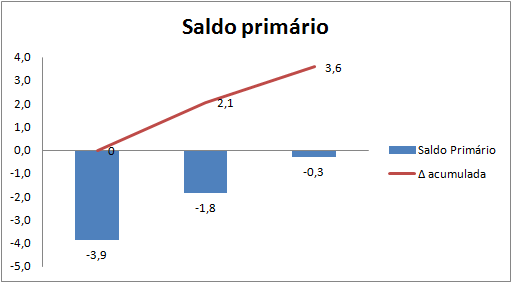Uma excelente entrevista de Ricardo Reis, hoje no ECO. Há duas ou três coisas de que discordo muito, mas na parte da banca, pelo menos, acho que vale mesmo a pena ir ler. Por que é que não há mais gente a explicar as coisas de forma tão didáctica? Isto não é física quântica.
Um dos objetivos da União Bancária foi impedir que fossem os contribuintes a pagar a falência dos bancos. Pensa que se conseguiu atingir esse objetivo? Uma das maiores preocupações das pessoas é que andam a salvar bancos, os seus impostos andam a salvar bancos…
É preciso esclarecer essa afirmação. Infelizmente, tornou-se um ditado popular que não é bem correto: de que o dinheiro dos contribuintes anda a salvar bancos (…) Em primeiro lugar, mas talvez o ponto menor, os contribuintes emprestam dinheiro ao banco, que por sua vez vai tentar recuperar os créditos. Se os recuperar reembolsa o contribuinte. No entanto, vamos ser claros, muitos dos empréstimos acabam por não ser pagos. O que é que acontece quando o contribuinte salva um banco? O que é salvar o banco? Um banco é uma entidade abstrata. Os acionistas do banco em todos os resgates – BPN, BES, Banif – perderam todo o seu dinheiro. Os administradores perderam o emprego e alguns acabaram na cadeia. Os gestores de topo destes bancos acabaram quase todos sem emprego à procura de emprego noutros bancos.
Alguns nem podem voltar a trabalhar em bancos…
Alguns nem conseguem. Não estamos a falar de salvar acionistas, CEOs, nem diretores. Quem é que nós salvámos? Salvámos alguns trabalhadores que mantiveram o emprego, mas mesmo esses não salvámos muitos, porque esses bancos estão em alta redução de pessoal. O que aconteceu é que os bancos emprestaram dinheiro a muita gente. E pediram dinheiro emprestado a muitos depositantes. Quando esta muita gente não pagou ao banco, os depositantes iam ficar sem o seu dinheiro. Quem nós salvámos foi os depositantes (…) O banco é uma entidade muito abstrata e que serve para imaginar um banqueiro gordo de charuto na boca a quem se salvou. Mas quem nós salvámos foram os muitos depositantes que tinham dinheiro no BES e que o recebeu todo. E salvámos também, se quiser, as pessoas da lista de devedores do BES, nas quais estão muitas pessoas reputadas da sociedade portuguesa, que deviam centenas de milhões e não pagaram. Não salvámos os banqueiros de forma alguma.
(…)
Voltemos a Portugal: uma das perplexidades com que nos debatemos é que a troika esteve aqui tanto tempo e não percebeu que havia um problema no sistema financeiro. A troika não viu ou não quis ver?
É difícil fazer esse diagnóstico. Existem ótimos livros a escrever por parte dos jornalistas bem informados que queiram fazer essa investigação de uma forma séria. É claríssimo, e basta olhar para as minutas e programas da troika, que não houve uma reunião que não se apontasse para as fragilidades do sistema financeiro português. Portanto, não se pode dizer que eles não tenham visto ou que não tenham apontado que havia um problema. A troika disse que o sistema financeiro português estava em grandes apuros, com certeza. A diferença é até que ponto é que a troika devia ter imposto algumas medidas ou não. E até que ponto é que elas tinham levado a um melhor desempenho ou performance.
O que é que devia ter sido feito?
Não vamos dizer devia, porque depois vamos os dois avaliar se ela devia ter feito isto. Podia ter dito: vamos chamar uma avaliador de ativos internacionais, para passar a pente fino o balanço dos bancos portugueses e dizer de facto quanto crédito malparado existe e qual é o valor que existe. Essa avaliação estaria concluída no final de 2011, demorava um ou dois meses. Descobríamos que o BES estava completamente falido, que o Banif estaria completamente falido, que o BCP estava basicamente completamente falido. E que o BPI estava mais ou menos na linha de água. Nessa altura, a troika diria “temos que fechar estes bancos”. Imediatamente no espaço dos próximos dois meses. Começar do zero, tendo em conta que os seus balanços estão maus. Criar três novos bancos no espaço de dois ou três meses.
Seguir o modelo irlandês.
Era isto. Isto levaria a que hoje estaríamos melhor ou não? O que posso dizer, com bastante segurança, é que isto tinha levado a uma enorme crise no final de 2011, início de 2012, no sistema financeiro. Uma enorme perda de confiança dos depositantes portugueses no sistema financeiro português. Uma enorme pressão sobre as finanças públicas de forma a poder garantir os depósitos de todas essas pessoas. Tendo em conta o que sabemos da influência dos acionistas destes bancos na comunicação social, assim como dentro das elites políticas portuguesas, que isto tinha sido recebido com uma enorme violência por todos os painéis de comentadores de todos os noticiários da noite. Não tenho dúvidas que ia haver muitos editoriais inflamados dos melhores jornalistas e comentadores portugueses diariamente a dizerem “a troika está a destruir o nosso país, como podem eles fazer isto?”. Parece-me que na altura se fizesse a pergunta à maioria da inteligência portuguesa, a maioria diria que a troika tinha errado profundamente ao fazer esta avaliação dos ativos e ao fechar 70% ou 50% do sistema financeiro português. Agora se chegando a 2016 isto tinha implicado que tínhamos limpado os balanços e tínhamos um Novo Banco 1, Novo Banco2, Novo Banco3 e Novo Banco 4 e tínhamos um sistema financeiro muito mais sadio e entretanto tinha havido uma recuperação maior? Talvez sim. Talvez não. Mas é esta a alternativa de que falamos quando dizemos que a troika errou e que devia ter feito mais…Como se “fazer mais” fosse tornar as coisas mais doces e só tinha benefícios em relação ao que foi feito. É preciso ver que esta é a alternativa. Devia ter sido feito? Eu tenho algumas opiniões, mas mais do que as opiniões é informar as pessoas sobre qual era o cenário alternativo, com uma intervenção mais musculada. Muitas pessoas na troika gostariam de ter feito isto. Teria sido melhor, teria sido pior? Responda você ou a pessoa que está a ver ou ler esta entrevista.